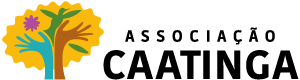Não se pode compreender o meio ambiente desvinculado de uma dimensão política. Política no sentido da dinâmica dos poderes, das negociações, das formas de domínio. Essa é uma questão fundamental que perpassa todos os agrupamentos humanos ao longo da história. E como os seres humanos ocupam um espaço, tendem a agir e a transformar a natureza das mais diversas formas, algumas vezes estabelecendo uma “negociação” com essa natureza, buscando uma interação harmônica e uma convivência duradoura. Mas em outras vezes predominam o conflito, a exploração e a degradação do meio ambiente.
Essa degradação foi profundamente sentida na década de 1970, quando se estabeleceu, num acordo internacional, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A grande pergunta era: como agir, a partir de então, sobre a natureza, uma vez que não seria mais possível manter o ritmo de devastação ambiental sem colocar em risco a vida humana? A pergunta continua em aberto, e, neste “papo caatingueiro”, procuramos refleti-la a partir da Caatinga. Para isso, convidamos Amanda Sousa Silvino para uma conversa sobre as “arenas políticas” que colocam a conservação da Caatinga em questão.
Amanda Silvino possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e dois mestrados, o primeiro em Ecologia Funcional e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Ciências e Tecnologia de Montpellier, e o segundo em Desenvolvimento Territorial e Gestão Integrada pela UNESCO, em parceria com o Museu Nacional de História Natural, a AgroParisTech e a Universidade de Montpellier. Além disso, é doutora em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente, é pesquisadora de Desenvolvimento Tecnológico no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) junto ao projeto internacional “Just Conservation: Bridging Values for Equitable Biodiversity Governance (BridgingVALUES)”, com financiamento do CNPq e da União Europeia.
Neste papo, Silvino enfatiza a importância de valorizar os saberes, as ações e as sensibilidades dos caatingueiros, tanto os habitantes da Caatinga quanto os seus estudiosos que reconhecem a importância do bioma e que lutam contra os avanços de iniciativas poderosas e inescrupulosas de degradação ambiental.

Amanda Silvino possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e dois mestrados, o primeiro em Ecologia Funcional e Desenvolvimento Sustentável, e o segundo em Desenvolvimento Territorial e Gestão Integrada. Além disso, é doutora em Ambiente e Sociedade. Atualmente, é pesquisadora de Desenvolvimento Tecnológico no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Entrevista
Associação Caatinga | Neste cinco de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como você vê a relação atual entre “ambiente” e “sociedade”? É possível pensar na conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento social?
Amanda Silvino| Nunca houve separação entre ambiente e sociedade, mas uma ilusão de que poderia ser construída uma sociedade baseada na ideia de lucro ilimitado, independente do ambiente. As ideias de desenvolvimento muitas vezes são pautadas pela economia capitalista que erroneamente acredita que a exploração dos recursos naturais pode promover um crescimento econômico ilimitado, de lucros crescentes. O jogo consiste em responder a uma demanda de maximização de lucros e redução de despesas. Esse ideal de desenvolvimento econômico não prioriza o desenvolvimento social, que é entendido como despesa e não como investimento. Na política, isso se reflete no debate do teto de gastos, de redução de investimentos em cultura, educação, saúde e meio ambiente.
Na sociedade capitalista, a conservação do meio ambiente é uma despesa. Então, existe um esforço hercúleo para medir os benefícios econômicos de um ambiente conservado, de transformar a natureza em cifra. Entretanto, esses benefícios são difusos, beneficiando a sociedade como um todo e não para gerar lucro a um grupo de interesse econômico específico. Se não há lucro, não interessa ao mercado financeiro.
Portanto, soluções para os problemas ambientais e sociais que vivemos hoje precisam ser pensados além da lógica de mercado e da economia capitalista. Nesse contexto, essa conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento social só pode emergir de outras formas de pensar e agir sobre o mundo, fora desse paradigma do lucro ilimitado. Soluções não precisam vir apenas de inovações, novidades, tecnologias. Elas também podem vir do resgate de um passado apagado, com valores e laços solidários que já existiram e que resistem em diversas comunidades, terras indígenas, quilombos, periferias urbanas. Essa resistência é expressa nas lutas sociais, nas reivindicações por dignidade, respeito e memória da nossa história.
A conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento social precisa considerar as interseccionalidades de raça, gênero e classe na relação com o ambiente. Precisa considerar o racismo ambiental que existe nos projetos de desenvolvimento econômico, precisa resgatar a nossa história e investir em reparação para com os povos e comunidades de tantas raças e origens que têm cotidianamente seus modos de vida comunitária violentados.
Portanto, acredito que a conciliação entre ambiente e sociedade, conservação ambiental e desenvolvimento social existe fora do neoliberalismo econômico, que concentra renda, produz pobreza e causa profunda devastação da natureza. Acredito que as conciliações possíveis existem nas mãos dos movimentos sociais, do espírito comunitário, do resgate da nossa história e no entendimento das inúmeras estratégias de sobrevivências que foram tecidas no enfrentamento do capitalismo.
AC | Nessa mesma pesquisa, você aborda “a conservação da Caatinga entre arenas políticas do semiárido brasileiro”. O que significam essas “arenas políticas”? Em que medida elas dificultam ou possibilitam novos caminhos para a conservação do bioma?
AS| Arena política é uma metáfora que representa o espaço social em que grupos de interesse disputam seus ideais. É um conceito que pode incluir diferentes lentes teóricas e métodos de investigação. Nesse enquadramento, consideramos as narrativas, os grupos sociais que defendem ou divergem de tais narrativas, a estrutura normativa que rege as regras em torno da disputa. Estas disputas podem ser percebidas na mídia, nos debates políticos, na aprovação de leis e projetos, na destinação de recursos financeiros.
A natureza está em disputa, portanto a conservação da natureza é uma arena política que envolve pessoas, grupos de interesse, leis, recursos financeiros e delimitação de áreas para a conservação. Nada disso ocorre de forma espontânea, mas por meio de uma construção ativa e de disputas políticas ao longo do tempo e no espaço. Enquanto a Caatinga for considerada um bioma marginal, sem relevância para a conservação da biodiversidade, ela terá um lugar marginal nas negociações de conservação da natureza. Por isso existe um esforço institucional, inclusive da Associação Caatinga, para uma mudança de olhar sobre o bioma.
É preciso entender e convencer que a Caatinga preservada é relevante, traz vantagens, estoca carbono, preserva modos de vida de comunidades do semiárido, conserva os solos, retêm sedimentos que aterram os rios e corpos d ́água.
Esse convencimento é político e as pessoas que defendem essa perspectiva sobre a Caatinga precisam ocupar os espaços de decisão sobre os projetos de desenvolvimento e econômico, investimento financeiro, gestão territorial para garantir que esses aspectos sejam considerados no debate. Foi nesse sentido que minha tese investigou como a Caatinga tem sido narrada e disputada nessas diferentes arenas políticas.
AC | A propósito, no atual cenário em que a conservação do meio ambiente se tornou, mais do que nunca, uma questão de sobrevivência humana, quais os desafios e a importância de estudar a Caatinga?
AS| Devemos estudar e agir sobre a Caatinga, defendendo sua conservação nos espaços de disputa política. Hoje, é a ideia de desenvolvimento sustentável e necessidade quase indiscutível de transição energética que está abrindo novas frentes de desmatamento de áreas de Caatinga conservada. Nesse processo, comunidades tradicionais que, em seus modos de vida, permitem a Caatinga se manter de pé, estão perdendo seus territórios.
As usinas de energia eólica e solar se apropriam das terras por meio de contratos questionáveis, bem como criam disputas nas comunidades com a promessa de rendimentos oriundos da produção e energia “limpa”. Ao mesmo tempo, diversas comunidades ficam com a devastação das suas terras e a diminuição da qualidade ambiental de seus territórios onde esses projetos são implantados. Perdem terra, têm seus modos de vida impactados profundamente, têm sua saúde mental ameaçada. Muitos estudos mostram as crescentes taxas de depressão onde esses empreendimentos são instalados.
Dessa forma, como já afirmei, precisamos estudar a Caatinga de forma interseccional, entendendo que na nossa sociedade existe uma estrutura histórica que é desigual e injusta, que se originou de um escravagismo nunca totalmente superado. Precisamos entender as relações sociais dentro desse espaço chamado Caatinga. Assim, poderemos atuar melhor sabendo ao lado de quem podemos unir forças, e com quem devemos direcionar um trabalho de convencimento sobre a importância desse ambiente. Todos os estudos são bem-vindos, desde aqueles de bioprospecção molecular, levantamento de fauna e flora, ecologia, estoque de carbono, dentre outros. Mas se não nos apropriarmos da conservação da Caatinga de forma política, entendendo que a conservação só é possível como resultado alcançado por muita luta social nas diversas arenas políticas, os resultados dessas pesquisas podem ser capturados pelas narrativas de desenvolvimento econômico com pretensão de Greenwashing, uma maquiagem, lavagem verde.
A expansão das energias renováveis no semiárido podem ser vistas nesse lugar: em nome de uma transição ecológica, produzimos energia “limpa”, desmatando a Caatinga e impactando os modos de vida comunitária secularmente consolidados. Além disso, nossa sobrevivência enfrenta, atualmente, as mudanças climáticas que, a cada ano, estão mais intensas. Portanto, devemos entender tanto a Caatinga quanto as dinâmicas sociais nela contidas para podermos unir forças para o estabelecimento de sistemas socioecológicos mais justos, inclusivos e promotores de bem-viver.
AC | Para a conservação de um bioma tão extenso como a Caatinga, são necessárias ações de vários níveis, do regional ao nacional, das escalas locais às mais amplas. Essas ações são bem articuladas no Brasil? Há estímulos públicos e privados para que elas sejam realizadas?
AS| A Caatinga é um dos biomas mais afetados pelas mudanças climáticas. Existem projeções que indicam a extinção de 90% da sua biodiversidade nas próximas décadas. Nesse cenário, a população também será fortemente afetada, com períodos secos mais prolongados, intercalados por períodos chuvosos mais curtos e intensos. Esse quadro acelera os processos de desertificação já existentes.
Ao mesmo tempo, estudos mostram que a Caatinga tem uma vegetação altamente eficiente na captura de carbono da atmosfera para o solo, portanto capaz de remediar os efeitos das mudanças climáticas. Preservar a vegetação da Caatinga é central para adaptação, mitigação e enfrentamento das mudanças climáticas.
Essa constatação tem chamado atenção a níveis nacionais e internacionais, e canalizado financiamentos e projetos no bioma. Esses somam-se às experiências a nível local, principalmente às iniciativas agroecológicas e de tecnologias sociais, como sistemas descentralizados de captação e armazenamento de água, quintais produtivos, biogás, fogões solares e à lenha, porém ecoeficientes. Essas ações, somadas à criação de cooperativas, com apoios de prefeituras para a promoção de feiras e apoio aos produtores familiares, orgânicos e agroecológicos, têm uma relevância central na sustentabilidade e segurança alimentar regional.
Todas essas iniciativas, apoiadas pelos municípios e articuladas com os estados, devem ser valorizadas e apoiadas pelas outras esferas de poder e organização social. Na esfera privada de produção, o bioma deve ser visto e entendido na sua ampla riqueza produtiva e não apenas na exploração de comodities, como mineração, agronegócio que se expande com as transposições dos rios, ou exploração das energias renováveis. Essas frentes econômicas não devem se sobrepor à rede de produção de alimentos e tecnologias sociais que já existem nos territórios. É possível pensar e promover uma articulação conjunta? Para isso precisamos promover espaços de encontro e debate entre todos esses grupos de interesses, trocar experiências e construir empatia. Com isso, desenhar propostas e canalizar incentivos para soluções mais enraizadas nos territórios, considerando experiências que já existem. E não são poucas.
A Caatinga, com sua história e potência, é um grande laboratório a céu aberto de experiências de superação e criação de soluções socioambientais que devem ser olhadas e tornadas relevantes para a sustentabilidade do bioma.
AC | Para finalizar, poderia falar um pouco sobre os motivos que te levaram a estudar a Caatinga? Há, nessas motivações, laços afetivos com o bioma para além dos interesses acadêmicos?
AS| Sou filha da terra. Primeira geração nascida na capital Fortaleza. Uma parte de mim veio da região de Chaval e do sertão do Piauí, outra parte dos Inhamuns e Jaguaribe. Sou essa mistura das famílias que chegaram na capital trazendo as histórias do interior na bagagem. Conheci as plantas e raízes, os pássaros e outros animais da Caatinga primeiramente nas histórias, depois nas visitas aos sertões de origem dos meus familiares. Posteriormente, morando no sertão e dando aula em uma universidade do semiárido. Sentindo o cheiro da chegada da chuva anunciada pelas formigas de asa, cupins e aves caçando-as em revoadas nos céus. E com as primeiras águas que inauguram o coral dos sapos e rãs. Depois o enverdecer, florescer e secar. A espera, o mormaço do chão quente, as florações do pau-branco em plena seca.
Pude debruçar-me nos desafios dessa natureza que se somam aos desafios socialmente impostos. Vivo a Caatinga com ancestralidade, é onde está enterrada minha raiz. Dela, cresceram meu caule e meus galhos que alcançaram a luz de um doutorado sobre o bioma. E seguem crescendo profissionalmente em outros projetos que buscam defender a importância da Caatinga nas arenas nacionais e internacionais da ciência.
Hoje trabalho com o tema de sustentabilidade socioecológica, justiça e equidade na conservação da biodiversidade da Caatinga e em diálogo com outras realidades socioambientais. Em um dos projetos vimos a importância de articular a conservação da Caatinga com a do Cerrado, que é de onde vem uma parte importante de suas águas. Sem as águas do Cerrado, não tem água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que cruza e abastece tantos sertões na Caatinga. Ainda que eu tenha trabalhado com outras realizadas socioambientais no Brasil e em outros países, meus passos nessa caminhada não deixam de carregar minha ancestralidade enraizada no bioma.
Texto escrito por Eudes Guimarães, integrante da Liga da Caatinga, o programa de voluntariado da Associação Caatinga.