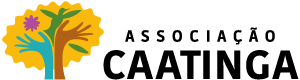O rio Mucuri se estende esplendoroso pelo nordeste de Minas Gerais. Sua bacia quase toca os afluentes do rio Jequitinhonha que, por sua vez, se avizinham do rio São Francisco, que de Minas avança colossal para o Nordeste, ganhando a Caatinga e transformando a paisagem com suas águas. Guimarães Rosa escreveu, em Grande sertão: veredas, que “rios bonitos são os que correm para o Norte, e os que vêm do poente – em caminho para se encontrar com o sol.” O rio São Francisco conhece bem os caminhos para o norte. O Mucuri não necessariamente avança nessa direção, mas não titubeia no trajeto ao encontro do sol.
Foram a fauna, a flora e as interações sociais na extensão do Mucuri que fascinaram a historiadora Regina Horta Duarte quando ela se propôs a pesquisar a Companhia do Vale do Mucuri, um ousado projeto empreendido no século XIX sob o comando do político mineiro Teófilo Otoni. Assim, além das árvores, dos animais e das comunidades indígenas que ali viviam, chegaram à região os empreendedores do império, imigrantes estrangeiros e homens e mulheres escravizados. Esse cenário multifacetado de conflitos, diferenciações sociais e variadas relações com a natureza, levou Regina Horta a enveredar pela História Ambiental, área que ganhou força e importância nos últimos anos.
Com o seu olhar atento às questões ambientais de nosso tempo, mas embasada por uma perspectiva histórica perspicaz, Regina Horta nos ajuda a refletir sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, assunto deste “papo caatingueiro”. Como historiadora, ela chama atenção para o momento de criação dessa data, no contexto dos anos 1970, mais especificamente durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que abriu a Conferência de Estocolmo, em 1972. O Brasil participou dessa Assembleia, à revelia das práticas pouco afeitas à proteção ambiental no cenário político brasileiro. De lá para cá, muitas reflexões precisam ser feitas a propósito dessa data, para além de “celebrar” ou “comemorar” o meio ambiente.
Regina Horta Duarte possui formação em História, com mestrado e doutorado pela UNICAMP. É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisadora nível 1A do CNPq e uma grande referência nos estudos da História Ambiental não só no Brasil, mas no cenário internacional. Participou da fundação da Sociedade Latino Americana Y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA) e, em 2013, foi professora visitante na University of Texas at Austin. Publicou importantes livros, dentre os quais destacamos História & Natureza (Ed. Autêntica, 2005) e A Biologia Militante: o Museu Nacional, especialização científica, divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil, 1926-1945 (Ed. da UFMG, 2010). Além disso, ainda mantém, no YouTube, o canal “As 4 Estações”, dedicado à divulgação da História Ambiental para o público amplo.
Esta entrevista, feita originalmente em áudio e transcrita para o site da Associação Caatinga, nos ajuda a pensar o “inteiro ambiente”, como Regina Horta prefere dizer, uma vez que não se pode desassociar a dimensão ambiental da questão humana.

Regina Horta Duarte possui formação em História, com mestrado e doutorado pela UNICAMP. É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisadora nível 1A do CNPq
Entrevista
Associação Caatinga | Em 05 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em sua visão, o que significa “comemorar” o meio ambiente? Datas como essa são capazes de provocar efeitos práticos?
Regina Horta | O Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que abriu a Conferência de Estocolmo, em 1972, e foi criado porque essa conferência se referia à questão do ambiente. Eu fico pensando: o que significa comemorar o meio ambiente? Na verdade, não creio que essa data possa ter efeitos práticos. Para um historiador, datas sempre são importantes porque são marcos, e o 5 de junho foi um marco criado historicamente, em 1972, no momento em que a comunidade internacional se voltava para o meio ambiente por alarme, isto é, por ver a destruição galopante que estava acontecendo.
Essa data, como um marco histórico, mais do que servir para celebração, serve para reflexão. Por isso, precisamos pensar em algumas questões em torno dela: quem a estabeleceu? Quem era a comunidade internacional reunida na Assembleia Geral das Nações Unidas? É preciso pensar que havia um contexto de criação dessa data, um contexto importante de mobilização da comunidade internacional em torno da questão ambiental, de despertar para essa questão. Em plena ditadura, o Brasil participou dessa conferência, num momento de forte desenvolvimentismo e de postura muito avessa à proteção ambiental. O Brasil participou e foi pressionado – tem toda uma história da participação de nosso país na conferência de Estocolmo.
Então indagações sobre quem estabeleceu e quando foi estabelecida essa data (todo o contexto do início da década de 1970) são coisas fundamentais para o historiador. Passadas mais de cinco décadas, seria importante fazer uma história dessas comemorações, questionar como elas ganharam sentidos e significados diferentes ao longo desses cinquenta anos, ou seja, refletir sobre como esse dia foi e é celebrado. E mais do que celebrar o meio ambiente – até porque a gente poderia pensar no “inteiro ambiente”, pois essa questão não está dissociada de forma alguma da questão humana –, mais do que celebrar, é uma data para estimular a reflexão e estimular a luta social.
Pensar o meio ambiente não é uma questão individual… de despertar o amor individual à natureza numa perspectiva romântica, mas é despertar a necessidade, a consciência da urgência da mobilização social, da urgência do questionamento dos nossos valores, das nossas práticas, da nossa organização social, das nossas políticas públicas…
Logo, no Brasil de hoje, por exemplo, o 5 de junho é muito importante como uma data para reflexão. Ela nos leva a refletir sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que os nossos governos têm feito em relação ao ambiente nessas últimas décadas. Refletir sobre o desastre que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Refletir sobre o avanço do desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, e que nós estamos tentando correr atrás do prejuízo, mas é um prejuízo muito difícil de compensar. Então acho que é mais do que celebrar o 5 de junho. O 5 de junho, na verdade, deve ser o estopim para a reflexão.
AC | A propósito, como o meio ambiente é pensado na perspectiva da História Ambiental? E em que medida essa concepção se distancia e se aproxima de outras áreas como as biológicas? Há uma troca interdisciplinar entre essas áreas?
RH | Para definir como o meio ambiente é pensado na perspectiva da História Ambiental, vou recorrer a Donald Worster, um historiador norte-americano que foi o primeiro, digamos assim, sistematizador teórico da História Ambiental. Em termos muito simples, citando um texto de Worster, a História Ambiental estuda o papel, o lugar da natureza na vida humana. Ele distingue três níveis de trabalho, três áreas especiais da História Ambiental.
A primeira seria o estudo sobre como eram os ambientes naturais no passado, procurando entender a natureza propriamente dita em aspectos como ela se organizava, tanto o mundo orgânico como o mundo inorgânico, ou seja, os animais, as plantas, mas também a hidrografia, o clima etc. O segundo ponto seria estudar os modos de produção humana, o trabalho, a atuação dos homens e mulheres transformando o meio natural na medida em que constroem suas sociedades. E um terceiro momento seria o estudo de ideias, de valores, de mitos, de significados – por exemplo, os animais na literatura, na filosofia, nas religiões… –, ou então como as ideias mudam, como os seres humanos pensaram diferentemente os animais e o mundo natural, ou também como os seres humanos se relacionam diferentemente com o mundo natural a partir de diferentes sensibilidades.
Necessariamente, como se pode perceber, a História Ambiental é interdisciplinar, dialogando com várias outras disciplinas. No caso da troca interdisciplinar específica com as áreas biológicas, o diálogo é imenso também. Eu acho muito importante que os historiadores estudem biologia. Às vezes historiadores dizem-se abertos à biologia, mas a estudam tal como ela é representada nas humanidades e não vão diretamente ao cerne da disciplina biológica. Então constroem ideias preconceituosas contra a biologia e têm interpretações muitas vezes incorretas dos conceitos biológicos.
Como em todas as disciplinas, nós falamos de um lugar, falamos da História, mas para que haja uma verdadeira busca de interdisciplinaridade, um verdadeiro diálogo transdisciplinar, é preciso quebrar os preconceitos que temos contra outras disciplinas e estudá-las diretamente. Não que devamos abandonar nossa posição de historiador, mas precisamos ler os textos dos biólogos, nos desfazendo dos preconceitos que a nossa área tem em relação às áreas de saúde e biológicas. Temos que nos abrir e aprender muito com os biólogos. Eu mesma sempre gosto de ler os biólogos e aprendi muito com eles.
AC | A história do Brasil é marcada por uma visão da natureza como recurso a ser explorado em função do extrativismo. Nesse momento, porém, a crise climática tem mostrado as consequências dessa visão. Nas plataformas digitais, há um esforço de sensibilização quanto à nossa relação com o meio ambiente, como você faz no seu canal do Youtube “As 4 Estações”. A nossa relação com o meio ambiente tem mudado nesses últimos anos ou permanecemos ainda apegados à ideia de natureza como recurso?
RH | Sobre essa questão de que nós nascemos numa nação extrativista desde o início, basta lembrar que o nome da nossa nação, Brasil, remete ao primeiro extrativismo, que era do pau-brasil. Temos, assim, toda uma cultura, uma tradição cultural voltada para a exploração irracional, predadora e imprevidente da natureza. Nós temos essa tradição, mas temos outras também, como várias comunidades indígenas ou populações tradicionais, que se relacionam diferentemente com a natureza, elas se mesclam diferentemente à natureza ao longo da história do Brasil e mesmo antes do Brasil ser Brasil, antes da chegada dos portugueses.
Então temos várias tradições aí. Infelizmente, a tradição de destruição, ganância e extrativista predomina e nós temos que nos mobilizar continuamente contra isso. É uma luta infindável, é quase um trabalho de Sísifo, a gente leva a pedra para cima, ela rola para baixo, a gente volta para buscá-la novamente… Assim, o esforço da conservação é um esforço que requer muita paciência, muita esperança e muito otimismo porque, na verdade, tudo é muito difícil.
Eu acho que a educação ambiental é importantíssima, os programas, a organização da nossa sociedade civil. Há mudanças? Claro que há, mas elas ainda são insuficientes para que a gente possa mudar a lógica da nossa sociedade em relação ao meio ambiente. E a Associação Caatinga é a expressão disso, de uma transformação, na medida em que pessoas se organizam em torno de uma Associação, de um bioma pouco valorizado, pouco lembrado, para lutar pela Caatinga. Então, fico muito honrada, por exemplo, de estar fazendo parte deste “papo caatingueiro” e, digamos, conhecendo mais intimamente, mais de perto o trabalho da Associação Caatinga.
AC | Na Associação Caatinga, trabalhamos para divulgar a biodiversidade e promover o convívio sustentável com o bioma. No entanto, ainda enfrentamos obstáculos como, por exemplo, o imaginário sobre a Caatinga como um ambiente raquítico e pouco diverso. Na História Ambiental, a Caatinga tem sido tema de estudo com alguma relevância?
RH | Realmente, a Caatinga ainda não recebeu a atenção devida pelos historiadores ambientais. Eu vejo que existem muitos artigos, muitos livros sobre a história da floresta Atlântica, sobre a Amazônia são muitos textos também… Sobre o Cerrado há, por exemplo, os trabalhos de Sandro Dutra e Silva [da Universidade Estadual de Goiás], dentre outros trabalhos importantes. Sobre o Sul, há toda a turma da Eunice Nodari, do LABIMHA [Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina], que pesquisa as florestas do Sul. Eu acho que a Caatinga ainda é pouco estudada pelos historiadores ambientais. E isso é importante de ser revisto.
AC | Em 2005, ano da publicação do seu livro “História & natureza”, você também publica um texto sobre “Nordeste”, de Gilberto Freyre, em que este autor “destaca um outro Nordeste, de terra gorda, umidade e sombras profundas”. Quais indicações você nos sugere para descobrir outros Nordestes, ou outros Brasis, que sensibilizem nossas percepções ambientais?
RH | Indicações para descobrirmos outros Brasis são tão infindáveis que é difícil selecionar apenas algumas. Vou indicar algo que não vem da História. Já que falei que precisamos ouvir os biólogos, vou dar duas indicações, na verdade dois podcasts que tenho ouvido como grande fã. O primeiro chama-se “Que bicho é esse?”, de Miriam Perilli, disponível no Spotify e em outros serviços de streaming. É um podcast fantástico em que ela conversa com vários biólogos, veterinários, conservacionistas, agentes da conservação no Brasil, e é muito interessante como essas pessoas estão cada vez mais antenadas para o fato de que a conservação envolve uma questão social e política.
O outro podcast que indico chama-se “Ciência e Conservação”, de Fernando Lima, que é sensacional. Nesse caso, indico especificamente o episódio “O sertão é do tamanho do mundo”, muito bonito, com uma entrevista com a Cláudia Campos, do ICMBio em Juazeiro (Bahia), que trabalha com a conservação de grandes carnívoros na Caatinga. Indico essas duas coisas para vocês ouvirem enquanto caminham, enquanto fazem suas tarefas. Fernando Lima e Miriam Perilli têm um projeto que se chama “DesAbraçando Árvores”, que eu acho o máximo, pois às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica da conservação, aquela coisa mais romântica de abraçar as árvores, daí vêm eles e dizem que se você quer conservar o meio ambiente, desabrace essa árvore aí e vá fazer alguma coisa eficaz.
Para finalizar, gostaria de dizer que para colocarmos a Caatinga em foco é um trabalho contínuo, é uma luta contínua.
Vocês mencionaram o meu programa do YouTube, “As Quatro Estações”, sobre História Ambiental, então, quem sabe a gente não faz uma entrevista com vocês da Associação Caatinga, sobre o trabalho de vocês. É uma forma a mais de divulgação, é uma ação a mais, entre tantas outras que são necessárias para valorização da Caatinga.
Texto escrito por Eudes Guimarães, integrante da Liga da Caatinga, o programa de voluntariado da Associação Caatinga.